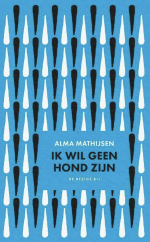O moinho, o caminho para o rio, o poço, os cavalos, as vacas e o trigo. Os baldes rachados cheios de tomates vermelho vivos, os boiões com as tampas bem apertadas cheios de legumes em pickles para o inverno. O estreito rio Severski Don, que alinha os campos todos, que empurra a Rússia contra a Ucrânia, que mantém o mapa unido, da mesma maneira que o meu bisavô Nikolaj cose os casacos com agulha e linha. O vento nas velas do moinho, as meninas do komsomol na praça central da aldeia. Dançam. De braço dado mantêm-se em equilíbrio inclinando o corpo para o lado e elevam-se do chão exatamente com a força devida. O moinho quase não faz ruído, a engrenagem de madeira só range de vez em quando. Um pouco mais à frente, o meu bisavô Nikolaj percorre o campo de trigo. Aperta as espigas nas mãos, arranca um bocado do caule, tira uns grãos e põe-nos na boca. Mastiga os grãos secos e saboreia a terra onde a minha avó cresce: doce e amarga. Mastigando escuta os animais, escuta o trigo no vento. Olha para a terra negra debaixo dos pés – tão fértil que toda a União Soviética se alimenta dela e que haverá sempre lutas por esta faixa de terra. Vejo-o aí, o meu bisavô, de pé no campo dourado, com o céu azul claro por cima dele.
Quanto mais me aproximo da terra natal da minha avó, mais azul se torna o céu da sua juventude. Quantos mais quilómetros me afasto da minha terra natal, maiores se tornam os buracos no asfalto. As pessoas enfiam paus compridos nos buracos para que os automobilistas não se matem neles e muito de vez em quando surge de um deles um girassol solitário. Conto cada vez mais casas degradadas, até passar as pontas dos dedos, um por um, pelos buracos de balas na cerca do jardim da minha tia-avó Nina. Vou-me apercebendo de que o azul pode ser de tudo: que as minhas tias-avós têm olhos azuis que se transformam em compactos glaciares agrestes quando se fala de política, que são topos de montanhas de onde se escorrega por um gletsjer quando choram e gritam. Que tudo nos olhos delas se torna silencioso como os lagos do Cáucaso quando comemos: uma vista serena e bonita, onde uma pessoa se sente segura. A minha bisavó Anna afirmou uma vez que os olhos de todas as suas filhas e filhos seriam tão azuis como o céu sobre os campos da Ucrânia. Cada criança que nascia dava-lhe razão. A sua primeira filha, Anastasiia, veio ao mundo com os olhos mais azuis de todos. O seu olhar destoava intensamente de qualquer espaço para onde a levassem. Anastasiia emitia luz, mesmo nos seus últimos dias, no seu leito de morte, quando um rapaz de Lugansk ainda lhe foi pedir a mão e não havia maneira de o afastar dela. Quando levaram dali a minha avó, ainda novinha, porque não é bom ver-se uma pessoa morta quando se é tão jovem.
A 2.722 km de distância dos campos onde Nikolaj tomou Anastasiia, a filha recém-nascida, pela primeira vez nos seus braços, Folkert Jan puxa-me para bordo do seu navio. Entre o cais e a coberta do navio corre o Beneden-Merwede, por cima de nós flutuam as nuvens neerlandesas no céu azul deslavado. É um céu que nunca explode por cima da paisagem, num azul cheio e forte, mas que a acompanha, discretamente, fundindo-se sempre com tudo. A minha pele lateja com o calor húmido neerlandês, que há dias envolve o meu corpo como um pano molhado. Na coberta de ferro do Sjouwer I, pintado a preto e branco, o calor não faz senão aumentar. De braços cruzados, Folkert Jan olha para o seu navio de contentores com 192 metros de comprimento e diz: «Bem-vinda. Finalmente estás cá.» Tem a cara cheia de sardas, o cabelo dele é ruivo e brilha ao sol.
– Sabes que não vais poder sair daqui durante quatro dias, não é? – brinca.
Olho para o rapaz delgado que está a lavar a coberta com a mangueira, mais à frente, vestido com um fato de trabalho cor de laranja, e para o filipino baixo que acaba de saltar do navio e que bebe um café num copo de papel no pontão da plataforma de abastecimento. Acenamos brevemente um para o outro.
– Este é um navio tranquilo – diz Folkert Jan, – com uma tripulação simpática. Há navios com ambientes mais assanhados, onde os homens são um bocado mais manhosos. Esses normalmente não levam passageiros.
A minha mãe está no cais, com as mãos nas ancas, e olha para os contentores alinhados em quatro camadas na barriga aberta do navio. Vejo que ela segue os contentores com o olhar e vejo-a a contar, movendo a cabeça: quatro de altura, quatro de largura, onze de comprimento. Deslizo atrás de Folkert Jan para o outro lado do navio.
A minha mãe e a minha avó nadam no Severski Don, pela primeira vez juntas de regresso à pátria.
– Já não é o mesmo rio – diz a minha avó, depois de terem flutuado um bocado na água. – Também parece que há menos colinas, como se tudo tivesse sido terraplanado.
É o verão de 1973, Stanitsyia Lugansk está tórrido e poeirento, a tia Nina pendurou um toldo entre a casa e a granja para fazer sombra. A minha mãe quase não fala russo mas da boca da minha avó saem de repente sons cheios e sonantes. É um russo fluente, sem erros, algo que a minha mãe em casa, nos Países Baixos, nunca ouviu com esta amplitude. Agora é só russo que se ouve, o dia inteiro. Para a minha mãe isso implica recorrer a gestos, que se vão tornando cada vez mais expressivos à medida que vai bebendo uns copos de vodka. Noite após noite ela e a avó são convidadas por alguém, têm de se sentar debaixo dum toldo num grande jardim, a uma mesa comprida cheia de comida, de sumos frescos e de vodka. Ela está sentada entre primos afastados, ao lado de rapazes e raparigas que se dizem irmãos e irmãs dela – tal como o meu primo Maksim, que não diz que é meu primo mas meu irmão –, uma palavra que dá imediatamente a sensação de estarmos mais perto uns dos outros. Servem à minha mãe bocados gigantescos de melancia, tão grandes que poderia lá enfiar a cara toda. O sumo vermelho da melancia é mais doce do que lá em casa, refresca-lhe o corpo acalorado. A comida na mesa é mais gordurosa, mais pesada, os tomates não sabem a água mas a calor e a verão, o vodka é acre e frio. A minha mãe destoa, nas suas calças de ganga. Com o passar das semanas vai vestindo cada vez mais vestidinhos às flores, ligando-se pouco a pouco às sistri e às tias, à sua avozinha Anna, que está sentada na sua cadeira no quintal a descascar batatas debaixo da macieira. Ela põe as batatas numa panela e as cascas no avental no seu colo. A minha mãe interroga-se se um dia ela própria não irá usar também um dente de ouro, como as tias, cujas dentaduras brilham na luz da noite quando riem.
O Sjouwer I começa a navegar. A minha mãe está sozinha no pontão da plataforma de abastecimento e diz adeus até que deixa de me ver, tal como faz a minha avó quando saio do apartamento dela no lar. Entre nós acena-se até se virar a esquina, até deixarmos de ver mesmo a outra pessoa. Entre nós toca-se duas vezes à campainha para anunciar: gente de bem. Ponho a mala na minha cabine e abro a janela por cima da cama. A água desliza silenciosamente. Há ciclistas no dique, os moinhos capturam o vento e as velas desenham círculos.
– Faltam cerca de 500 quilómetros até Mannheim – diz Edwin, no posto de comando. – Como navegamos a uns 10 quilómetros por hora, podes calcular.
No braço tem uma tatuagem que se pode ler tanto EDWIN como EDMIN. O M e o W estão sobrepostos. Dois dias depois há de contar-me que se tratou de um erro, aquele M, que houve um tempo em que estava na moda entre os seus amigos mandar tatuar o nome em letras góticas. Hei de mostrar-lhe o nome da minha avó no meu antebraço, Александра: Aleksandra. Está escrito na letra dela.
O Edwin carrega num botão. O posto de comando sobe lentamente pelo ar, até podermos olhar por cima dos contentores. Conseguimos ver a proa do navio, consigo olhar pelo rio fora. Passamos debaixo de pontes que eu em criança atravessava sentada no banco de trás do carro, passamos diques onde andava de bicicleta com os meus pais no verão.
Na coberta de trás olho para o sol que desce lentamente para a paisagem e deixa traços vermelhos no ar, que pinta longas faixas de luz em cima da água como pinceladas de aguarela no papel. A bandeira neerlandesa tremula ao vento, às vezes dobra-se, estende-se. Homens sentados em banquinhos de pescador acenam, casais idosos param a bicicleta para olhar para o navio.
Visto do rio tudo parece passar-se em câmara lenta, a sensação de tempo é diferente, a vida ganha outro ritmo.
Quando a minha avó navega aqui, nos últimos dias da ocupação dos Países Baixos, ela vê a mesma coisa: por mais destruída que esteja a margem, na água parece que nada aconteceu, tudo está silencioso e calmo. Vejo-a passar, cruzamo-nos, a água entre o Sjouwer I e o navio dela ondula em sobreposições, faz espuma no rio. Ela ficou magra e ossuda. Veste um camiseiro branco e uma saia lápis. Os seus braços e pernas estão bronzeados, as bochechas vermelhas. Vai passando as fraldas sujas do Peter ao marido, Koos, que se dobra com a barriga por cima da borda do barco. Com um pedaço de sabão ele esfrega as fraldas na água e bate o tecido contra o casco do navio.
Não digo nada, não a chamo pelo nome (Sasja para os amigos) por cima da água marulhante, só olho. Para as suas mãos estreitas que mexem no cabelo do Peter novinho, nos caracóis penteados para o lado, onde ele vai pôr brilhantina quando for jovem e dramatizar o seu visual andando de mota a toda a velocidade ao longo do rio Merwede; para o olhar dela, que observa o rio atrás dela com satisfação, com alívio, e se vira para a frente com os olhos azul-claros luminosos, um pequeno sorriso no rosto. Vamos para casa, dizemos nós, ela e eu, à água. Só saio da coberta de trás quando ela desaparecer da vista, quando o rio fizer uma curva e o céu da noite se tiver tornado azul-escuro.